Rodrigo Bouillet
* Publicado originalmente no catálogo da mostra “O Pan-Americanismo no Cinema”
Após filmar Ironweed (1987) nos EUA, Babenco volta ao Brasil com a produção estrangeira Brincando nos campos do Senhor (1990) no momento em que o setor cinematográfico do país atravessa grave crise: Collor extingue órgãos responsáveis pela área; considerando a marca de 1 milhão de espectadores (10 filmes por ano na década de 1970), o público está às vésperas do desaparecimento (de 1992 a 1994); e a produção de longas arrefece drasticamente, chegando a nove em 1992.
As estratégias de sobrevivência dos cineastas no período de trevas (1990-1995) são várias, inclusive a realização de filmes que visam o mercado externo. A grita sobre a inviabilidade (ou impossibilidade) do cinema brasileiro invadia noticiários e, ao mesmo tempo, retratava e justificava experiências de Bruno Barreto (três filmes nos EUA neste ínterim), bem como de diretores geracional, política e esteticamente distintos, por exemplo: Walter Salles Jr. (A grande arte), Walter Hugo Khoury (Forever) e Sérgio Toledo (One man’s war) – para ficarmos no ano de 1991.
É justamente em um contexto internacionalizante (há quem diga de fuga) da produção cinematográfica brasileira que Babenco vem dos Estados Unidos com aporte da Universal Studios para embrenhar-se nos confins da floresta amazônica.
Em Brincando nos campos do Senhor, os personagens, de origens e culturas diversas, têm em comum o fato de haverem nascido em solo americano e de que, naquele momento, precisam se posicionar diante da existência da tribo dos índios niarunas.
Dois aventureiros estadunidenses, o mestiço índio cheyenne Lewis Moon e o judeu Wolf, aterrissam no longínquo vilarejo de Mãe de Deus. Lá, são retidos pelo Camandante Guzman com a promessa de serem liberados caso bombardeiem a aldeia niaruna. Guzman é a autoridade local, interessado somente nos benefícios que terá livrando a área para o garimpo. Moon, em crise de identidade, desiste do bombardeio. Antes de alçar vôo, todos lhe cobram as raízes indígenas. Caído do céu, é identificado como um deus malévolo, e assim é acolhido e ganha influência dentro da tribo. Com a gripe que leva para a aldeia, não há quem não afirme sua condição de homem branco. Wolf vive o tormento de uma diáspora própria, na qual confunde e entrelaça o longo tempo longe dos EUA e o distanciamento de sua origem judaica.
Há dois anos na floresta, o casal estadunidense de missionários fundamentalistas Leslie e Andy Huben recebem o reforço de outro casal, Martin e Hazel Quarrier, em sua empreitada de evangelização dos índios. Hazel vê a terra como suja, pecaminosa e baseada em crendices tolas e fantasiosas – fatores que somados à morte do filho conduzem-na à loucura. Leslie encara as adversidades como um grande desafio. Porém, não um desafio a sua fé, mas sim a sua capacidade de converter, quer resultados. Martin, mais do que um devoto em missão, é um profundo admirador da cultura indígena, a ponto de Hazel “acusálo” de sociólogo e gerar ríspidas discussões com Leslie. Andy é um ser autômato, talvez mais interessada em suprir sua esterilidade, seu instinto materno, no cuidado dos índios do que qualquer outra coisa.
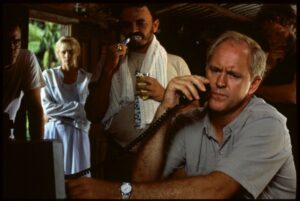
Por fim, padre Xantes vive conformado a ruína do projeto católico na região, por entender que não há projeto (possível) de qualquer ordem para as pessoas que lá vivem. Não há um bem comum, algo que as mobilize, comova, una.
O pan-americanismo tem raízes geográficas – o continente – e históricas – inicialmente, as civilizações transplantadas de outras terras e, depois, o processo de emancipação das colônias. Sendo assim, é sintomática a ausência de um representante da América hispânica. Tal opção talvez se justifique pelo fato do filme não querer entrar na seara do processo emancipatório e político brasileiro que, quando confrontado ao restante da América Latina, caracteriza-se como radicalmente diverso, permanecendo até hoje enormes fossos nas relações entre os países.
De qualquer forma, o que fica é o sentimento de desterro, de não-pertencimento, que perpassa todos os personagens. Necessitam de uma guetificação para se reconhecerem, uma vez que fora de seus espaços originais têm a presença insuportável do outro, no caso, os índios. E o filme trata do modo como cada um lida com isso: a loucura de Hazel, a antropologia de Martin, a conversão de Leslie, a estupidez de Guzman,… Na realidade, estratégias e crises que encontram reverberação histórica nas nações quando se fala em “harmonização” do continente.
Apesar de eviscerar o descompasso dos atores políticos da região e de pormenorizar a impossibilidade de um projeto pan-americano, Brincando nos campos do Senhor falha ao se concentrar demasiadamente na relação dos personagens com os índios e não entre si. Falta-lhes consciência de suas posturas, que ao tentarem atingir os índios terminam por acertar em muito mais – ou seja, eles mesmos, o mundo. De outro lado, a romantização dos nativos (e a exaltação da beleza intocada da floresta) acaba alijando-os de qualquer capacidade ou vontade de participação do processo histórico.
Por fim, é irônico relacionar a narrativa da produção estrangeira de Babenco no Brasil ao momento do cinema nacional: a chegada de missionários e aventureiros estrangeiros em uma terra combalida habitada por padres e militares que falam inglês e por índios que não querem nem saber.